Publicado em: 7 de julho de 2017
Depois explico porque eu sempre lembro de 1968 quando revejo o monumental The Man Who Shot Liberty Valance, filme da minha geração e coleção que aqui no Brasil foi magistralmente rebatizado de O Homem Que Matou o Facínora. Meu ingresso na universidade, no início daquele ano, coincidiu com um período bastante tumultuado da vida estudantil brasileira. Lá pelo mês de maio, sob inspiração das barricadas de Paris, o movimento estudantil começou a tomar corpo em São Paulo e Rio de Janeiro. Com a morte do estudante paraense Edson Luis, assassinado no restaurante do Calabouço, no Rio, os daqui também resolveram se mexer. Em 1º de agosto, a Escola de Engenharia foi ocupada e ficamos uns dois meses parados, até que o reitor José da Silveira Neto atendesse nossa principal reivindicação: trocar o diretor caduco pelo saudoso professor José Maria de Lima Paes. Na verdade, a substituição se fazia necessária, mas foi apenas uma desculpa para apoiar o movimento da UNE, que era travar a implantação do acordo MEC-USAID com os Estados Unidos. A primeira faculdade a paralisar as aulas foi a de Química Industrial, que queriam agregar à UFPA com o nome de Instituto de Química, sem contar as precárias condições do prédio onde funcionava.
Engenharia logo convocou uma assembléia geral e aderiu ao pessoal de Química. Daí em diante foi como num efeito dominó. Todas as faculdades foram parando, até que a UFPA ficou com suas atividades inteiramente suspensas. Devemos lembrar que o Campus do Guamá era pouco mais que um sonho riscado num papel, com poucos prédios construídos, onde apenas alguns cursos funcionavam precariamente. As faculdades mais tradicionais permaneciam em seus prédios próprios, e pouco contato havia entre os estudantes dos diversos cursos. Por isso, aquela greve estudantil foi um acontecimento histórico e mexeu com toda a cidade.
A partir da tomada da Escola de Engenharia, nossa vida acadêmica passou a ser um período de passeatas, enfrentamentos com a polícia militar e muita correria pelas ruas de Belém. O movimento não era muito organizado, as reuniões intermináveis e pouco produtivas, mas as passeatas andaram driblando bem a polícia. Alguns estudantes iniciavam um ajuntamento pacífico, digamos, no Largo de Nazaré. Os milicos eram avisados e corriam para lá, mas a verdadeira passeata acontecia em outro lugar, por exemplo, na Praça da República, com uma multidão de estudantes aos gritos estridentes de “abaixo a ditadura” e outras palavras de ordem.
Depois de tanta confusão e incertezas, em dezembro veio o famigerado AI5 e a mordaça. Eu terminava o primeiro ano e fazia parte de um bom grupo de estudo. Além de mim, havia dois colegas oriundos da minha turma do Colégio Nazaré, e mais dois de fora, dos quais me tornei amigo na boa convivência daqueles dias. Era um time que não negligenciava nos estudos, e todas as noites se reunia na casa de um deles, em Batista Campos, nem que fosse apenas para jogar conversa fora e tentar salvar o Brasil. Mas durante o dia, além das aulas da faculdade, todos já tínhamos arranjado estágio ou dávamos aula particular de física e matemática para livrar uns trocados.
Certa noite, num daqueles papos intermináveis de grupo de estudo, alguém perguntou quem conhecia o Rio de Janeiro. Apenas um de nós respondeu que já tinha ido a Brasília, onde morava um tio, funcionário federal graduado com bela mansão às margens do Lago Paranoá. Foi o que bastou para traçarmos um plano de viajar nas férias de dezembro, descer de ônibus pela poeirenta BR-010, passar por Brasília e alcançar o verão pleno do Rio de Janeiro, onde poderíamos realizar um dos nossos grandes sonhos de vida: apreciar as curvas da Leila Diniz num “minúsculo” biquíni, na praia de Ipanema. Imaginem só quanta babaquice! Da conversa, passamos ao planejamento e começamos a economizar uns trocados, com o compromisso de que tudo seria repartido igualmente. Se um passasse fome, todos teriam que passar. Minha dinheirama mal dava para a passagem de ônibus, e tive que apelar para meu saudoso e bom pai. No fim, ele me arranjou mil cruzeiros junto com um sábio conselho:
-É o que eu posso, mas é bom você não viajar sem a passagem de volta.
Inauguramos um ônibus leito que saiu de uma travessa, no bairro de São Braz, porque a rodoviária ainda não existia. A companhia anunciava tirar 36 horas de Belém a Brasília, o que era um enorme avanço para aqueles dias. Tirando um amortecedor quebrado na buraqueira da estrada tudo correu bem. O ônibus deu conta do recado e chegamos todos salvos a Brasília. Saímos da rodoviária e fomos perturbar a paz do tio do nosso amigo, no Lago Paranoá. Nunca eu havia estado numa mansão com piscina, e passamos uns três dias naquela mordomia, a bom pegar sol, comer e consumir whisky 12 anos do dono da casa. Depois apanhamos outro transporte e nos mandamos pro Rio de Janeiro. Conseguimos alugar um kitnet por quinze dias e ficamos girando no bem-bom da cidade maravilhosa que, naquele tempo, ainda era mesmo maravilhosa. Mas, para total tristeza, nas diversas vezes em que estivemos acampados na praia de Ipanema, nunca vimos nem sinal da nossa musa Leila Diniz e dos seus biquínis ousados. Em compensação, uma noite entramos na fila de ingressos de um cinema do Leblom, onde estava levando O Homem Que Matou o Facínora e, bem à nossa frente, como uma Venus de Boticelli, estava a bela atriz Dina Sfat, na companhia do marido Paulo José. Fiquei fascinado pela classe daquela fantástica mulher e depois pelo filme inesquecível que eu vi. Foi a lembrança que permaneceu e que sempre me devolve ao ano de 1968, todas as vezes que eu revejo o grande filme de John Ford: a imagem da deusa Dina Sfat, a poucos centímetros de mim, numa despreocupada fila de cinema.

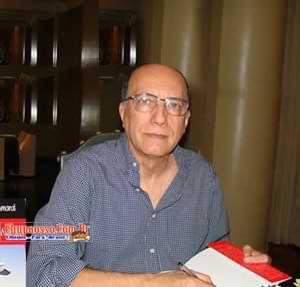

Comentários