Publicado em: 7 de julho de 2017
Já sentimos no corpo e na alma a vibração de mais uma Copa do Mundo. Para mim, a história desse evento só começa, de verdade, a partir de 1950 e eu explico o porquê. Além de ter sido no Brasil, foi a primeira Copa do Mundo depois que eu nasci e também a primeira após a segunda grande guerra, como a simbolizar uma porta de luz e esperança na nova geopolítica da guerra fria. Por causa do conflito, a disputa do torneio acabou interrompida por doze anos, e não foi sem propósito que sede escolhida para o reinício da competição elegeu um país da América do Sul. A Europa, mesmo depois de cinco anos do término da grande guerra, ainda estava com os pés sujos de sangue e tentava se levantar de um chão onde pairava o espectro de milhões de mortos. O Brasil encarou a difícil parada e construiu o estádio do Maracanã, que depois recebeu o nome de Estádio Mário Filho, em homenagem ao jornalista esportivo que foi o maior incentivador da obra. O escritor Nelson Rodrigues, irmão de Mario Filho, imortalizou esse merecido batismo, numa crônica antológica, onde escreveu que o Maracanã jamais foi Maracanã, sempre foi Mario Filho, mesmo quando ainda era apenas um sonho riscado num papel. A verdade é que o Estádio Mário Filho foi construído para o evento e para ser o maior e mais belo estádio do mundo.
Esse negócio de ser maior do mundo me lembra um fato ocorrido comigo, em Boston, onde eu passei um período tentando melhorar o meu inglês sofrível.O diretor da escola, talvez de saco cheio de tanto me ouvir contar grandeza do nosso país e, sobretudo, da Amazônia, um dia apareceu com um exemplar do jornal, The New York Times, onde mostrava um escândalo de corrupção no Brasil, e me perguntou de modo totalmente irônico: Why is everything so big in Brazil? Mas será mesmo coisa só de brasileiro essa mania de querer ser o maior do mundo em tudo? O Maracanã já perdeu o título de mais belo para outros estádios mil vezes mais modernos e mais elegantes pelo mundo afora, mas ainda é o maior do mundo e ponto final. Também não podemos falar da copa sem falar da taça Jules Rimet, que graças a Otorino Barassi, um desportista italiano, permaneceu escondida durante toda a guerra para ficar a salvo das tropas nazistas.Em 1950 a taça foi entregue para os Uruguaios entre lamentações e lágrimas, mas em 1970 ela veio em definitivo para nós. Projetada pelo escultor francês Abel Lafleur, tinha as irretocáveis formas da Vitória Alada e carregava mil e oitocentas gramas de ouro puro no corpo. Pois acreditem, na tarde de um feriado, em 1983, num bem planejado assalto à sede da CBF, na rua da Alfândega, ela foi roubada por uma quadrilha e depois desgraçadamente derretida por um receptador argentino(e logo um argentino!), nos deixando órfãos para sempre. Então, somos ou não somos os maiores do mundo em tudo?
Na minha primeira Copa do Mundo eu tinha dois anos e não deveria me lembrar de nada, mas é como se eu me lembrasse de tudo. Quer dizer: abri meus olhos pro mundo ouvindo meu pai falar do desastre de 1950, no Maracanã. A copa que eu não fiquei sabendo, foi a de 1954, na Suíça, e restou desse período apenas um imenso vazio na minha mente. O mais curioso é que eu me lembro de detalhes sobre a grande cheia de 1953 e não consigo a mais ínfima lembrança da copa acontecida um ano depois. No máximo, talvez tenha restado algum diáfano comentário do meu pai sobre a incrível máquina húngara de 1954, comandada pelo genial meia Ferenc Puskas. E só. Acho que meu pai desconsiderou essa copa e passou os oito anos seguintes a 50, praguejando sobre a surra histórica que os Uruguaios nos aplicaram e, como praga eterna, ficam insistindo em nos lembrar até hoje. Os uruguaios nunca mais ganharam nada, mas daqui a mil anos vão continuar nos martirizando e falando no tal desastre do Maracanã. O Brasil daquela época tinha um time simplesmente fantástico. Antes da final, demos um banho de 7×1 na Espanha, e o Maracanã inteiro cantou Touradas em Madri: “Eu, fui às touradas em Madri, pararati pum, pum, pum, pararati pum, pum, pum”. Diz a lenda que quase duzentas mil pessoas fizeram um coro monumental com essa marchinha carnavalesca, e que apenas Braguinha, o autor da música, não conseguia cantar porque era incapaz de conter o choro da emoção. Pois fomos os vice-campeões precisando apenas de um simples empate na final, e ainda fizemos 1×0 num petardo de Friaça aos três minutos do segundo tempo. Aí… Meu Deus!, o Schiafino empatou e, faltando poucos minutos, o danado do Gighia fez o 2×1 quando o presidente da FIFA, Mr. Jules Rimet, já descia das tribunas para nos entregar a taça. Uma tragédia sem par e o minuto de silêncio mais longo da história do Maracanã.
Mas chegou 1958. Tínhamos também um time bom: Gilmar, De Sordi, Belini, Orlando, Nilton Santos, Dino Sani e Didi(o príncipe etíope), Joel, Mazzola, Dida e Zagalo(o formiguinha). Se já éramos um time bom, viramos um time excepcional a partir do jogo contra a Russia, quando entraram Zito no lugar do Dino, Pelé(que se tornou rei eterno)no lugar do Dida, Vavá(o leão da copa) no lugar do Mazzola e Garrincha(o demônio das pernas tortas) no de Joel. Mazzola revezava com Vavá no comando do ataque e entrou mais uma partida, mas acabou perdendo o lugar de titular porque corriam boatos que ele andava tirando a canela, por já estar negociado com o futebol italiano. De fato, depois da copa Mazzola foi parar na Itália onde virou Altafini, fez bela carreira e de lá nunca mais arredou pé. Na última partida, contra a Suécia, ainda entrou o reserva Djalma Santos no lugar de um nervoso lateral De Sordi. Dizem que, na véspera do jogo, De Sordi passou a noite toda com insônia e fumando um cigarro atrás do outro. Djalma entrou, tomou conta da posição e bastou esse jogo para ele ser eleito o melhor lateral da copa e consagrado, daí pra frente, como o maior lateral direito do futebol brasileiro em todos os tempos.
Com dez anos de idade, em 1958 eu estava em Santarém estudando no Colégio D. Amando. Foi o primeiro de muitos anos longe dos meus pais e lá eu acompanhei a Copa do Mundo pelo rádio até o penúltimo jogo contra a poderosa França do artilheiro Fontaine. Porém, já na partida final contra a Suécia, eu era um feliz estudante aproveitando as primeiras férias escolares da minha vida, no Paraná da D. Rosa. Meu pai havia comprado, de um marchante de Manaus, um potente rádio à válvula com uma gigantesca antena que cobria toda a extensão do telhado e que pegava até fuxico de vizinho. A casa da fazenda encheu de gente e ele prometeu abrir uma frasqueira de cachaça de Abaeté se o Brasil ganhasse. “Hoje eu quero ver gente beber até cair morto nesse terreiro” – ele disse. Lembro claramente, que aquela manhã de julho amanheceu cheia de sol e céu limpo, como um prenúncio da grande vitória brasileira.O jogo mal começa e Lindholm faz 1×0 pra Suécia. “Pronto – gritou meu pai com seu conhecido vozeirão – lá vem outra vez a praga uruguaia de 1950”. Mas nossa máquina de 1958 era imbatível e aquela copa foi a vitrine para dois reconhecidos gênios do mundo do futebol: Pelé e Garrincha. Não podia dar outra coisa: vencemos de 5×2 num baile de bola memorável, e acabamos de vez com o nosso complexo de vira-latas, como escreveu Nelson Rodrigues numa outra crônica antológica.

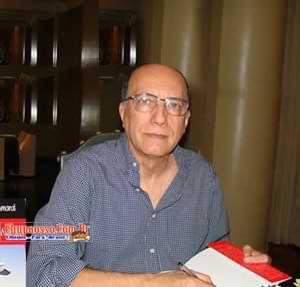

Comentários