Publicado em: 5 de fevereiro de 2025
1.
Venho falando, nas últimas semanas, de ontologia. Aqui e ali vou dizendo o que dizem que é ontologia, mas acho que está na hora de dizer a vocês o que eu entendendo quando falo de ontologia. Em filosofia, ontologia quer dizer “estudo do ser”. Para mim – porque sou heideggeriano e beneditonunesiano, com vênias pelo neologismo – ontologia quer dizer “como um ser se pensa quando se vê fazendo parte de um mundo”.
Meu trabalho como sociólogo, antropólogo, escritor e jornalista se resume nisso: convivo com pessoas da Amazônia, fazendo o que chamamos de observação participante, e procuro entender como elas pensam, a si mesmas, quando se percebem fazendo parte de um lugar, um tempo, um mundo. Ou então, faço a mesma coisa, quando leio um conjunto de textos, textos que tentam se comunicar com o mundo que os envolve – textos de jornais, cartas privadas, fotografias, filmes, discursos políticos ou romances e poemas.
No meu trabalho como escritor faço a mesma coisa: reflito sobre como meus personagens (que não estão ausentes do mundo que me envolve), se veem quando se percebem dentro de um mundo.
Ontologia significa reflexão sobre a natureza do ser, individual ou coletivo; reflexão sobre sua existência e sobre sua realidade social. E, é claro, nem todos pensam sobre o que são, ou sobre o que os outros são, da mesma maneira.
Pensando assim, se percebe que o mundo é feito, essencialmente, de conflitos ontológicos.
2.
Venho falando, também, nesta coluna e nas últimas semanas, sobre como esses conflitos ontológicos estão presentes nos atuais protestos indígenas e de outras comunidades tradicionais amazônicas contra a Lei 10.830/2024 – que, como se sabe, destrói as bases do direito indígena à educação.
Vejam, mesmo que essa questão seja negociada e pacificada, os conflitos ontológicos continuarão, e é preciso falar sobre eles, porque eles estão na base da política.
O conflito essencial, ao qual estou me referindo, se passa entre a ontologia representada pelo governador do Pará, Hélder Barbalho e as ontologias representadas pelos povos tradicionais amazônicos.
E qual é a diferença entre elas? Vejamos. Sintetizando tudo o que sabemos, por meio de pesquisa científica e de relatos que flutuam na vida social, a ontologia representada pelo governador Hélder B. é a do ethos colonial, ou seja, a tradição de ver os povos amazônicos a partir de um olhar colonizador. A partir do olhar de quem sente, de quem tem a ilusão de ter autoridade sobre o território e o direito de decidir sobre a vida de outras pessoas, as quais considera inferiores e prontas para serem tuteladas.
Por outro lado, as ontologias das populações tradicionais amazônicas são ontologias diversas, mas que têm algo em comum: a percepção de que possuem uma relação de causalidade e de consequencialidade com a floresta. São pessoas que representam um paradigma associado à preservação dos ecossistemas naturais.
3.
As ontologias do colonizador – o governador Hélder B. e, em seu conjunto, as elites amazônicas, sejam as do passado, sejam as do presente – ocupam um lugar autoritário na vida social. Elas baseiam-se na crença de que possuem mais direitos do que outros, de onde sua sensação de potência, sua crença num merecimento meio mágico, sua empáfia e orgulho e, não raramente, sua crueldade.
Na verdade, essas ontologias dos colonizadores se misturam com as ontologias dos colonizados – as pessoas da Amazônia que, mesmo sem fazerem parte das elites, apoiam-nas, acabam pensando como elas, seja por força das ideologias, seja por força da influência da mídia, seja em função das representações sociais costumeiras, geralmente acríticas. Colonizadores e colonizados integram um mesmo horizonte político.
Por outro lado, as ontologias dos povos amazônicos tradicionais não ocupam, ao contrário do que muitos podem pensar, um lugar subordinado. Elas podem ocupar um lugar social confrontado e, em alguns casos, em certos contextos históricos, subalternizado – mas esse termo é muito diferente de subordinado.
Uma pessoa pode ser subalternizada sem que, necessariamente, seja, subordinada.
Uma ontologia confrontada, ou mesmo subalternizada, pode ocupar um lugar de resistência. E, no caso das populações tradicionais amazônicas – bem como, ao seu lado, muitas outras populações amazônicas que não são tradicionais mas que se encontram em conflito de subalternização sem serem, de modo algum, subordinadas – podemos, certamente, falar em resistência.
Uma resistência que vem durando desde sempre e que é muito forte. Como, aliás, demonstra a ocupação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
4.
Podemos descrever a batalha em curso, a queda de braços entre o governador do Pará e a luta social que pede a revogação da Lei 10.830/2024, como um xadrez ontológico. Um xadrez porque a batalha do governador não está ganha. Ao contrário, está confrontada – e ele se vê obrigado a jogar, apesar de, certamente, não o desejar.
A imposição do jogo, por si, apenas já é uma vitória.
Impedir o jogador mais forte de chutar o tabuleiro e sair do jogo – obriga-lo a jogar, já é uma imensa vitória.
E, nesse jogo, a arrogância do governador – de resto bem comentada por todos e muito bem documentada – é uma arrogância de classe e, ao mesmo tempo colonial, colonizadora e colonizada.
Por sua vez, a resistência social que se opõe a tudo isso, a começar pela ocupação dos povos indígenas e demais povos tradicionais que ocupam a Seduc, com amplo apoio popular, em todo o estado do Pará, é uma demanda de ponderação, uma chamada ao bom senso.
De qualquer maneira que se veja, a história da Amazônia é um xadrez ontológico.



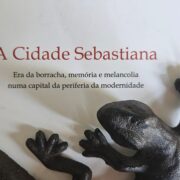
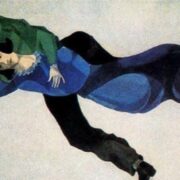


Comentários