Publicado em: 6 de agosto de 2025
No último dia 23 de julho, uma manchete quase silenciosa rompeu o ruído ensurdecedor da geopolítica baseada em ódio e tarifas: “O mais alto tribunal do mundo abre caminho para reparações climáticas”, anunciou o China Daily, referindo-se ao parecer histórico do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), em Haia, que começa a construir jurisprudência sobre a responsabilidade legal dos países ricos pela crise climática. Trata-se de uma virada potencial no direito internacional, cuja importância deveria estar nas capas dos jornais mas que foi engolida por manchetes sobre os devaneios autoritários de Donald Trump e o preço do café no Starbucks.
A verdade é que o clima saiu das prioridades. Em pleno 2025, mesmo com recordes de temperatura, incêndios florestais devastando o Canadá, secas arrasando a África e ondas de calor tornando cidades da Ásia inabitáveis por semanas, o tema desapareceu da centralidade política. A COP 30, marcada para novembro de 2025, em Belém do Pará, corre o risco de ser mais uma cúpula de promessas recicladas e metas inalcançáveis, a menos que países como o Brasil e aliados do Sul Global devolvam o debate ao seu devido lugar: no centro da sobrevivência da humanidade.
O tribunal da história se move e a conta chega
O parecer do TIJ atende a um pedido feito por Vanuatu, pequeno país insular do Pacífico, apoiado por mais de 130 países. A consulta busca estabelecer se os Estados têm obrigações legais, sob o direito internacional, de proteger o clima, e se a omissão desses deveres acarreta responsabilização e reparações. Embora o parecer não seja vinculante, ele serve de base jurídica para futuras ações contra grandes emissores, uma espécie de “Aviso Prévio” jurídico ao Norte Global.
Por que isso importa? Porque há décadas os países mais ricos, responsáveis por mais de 70% das emissões históricas de CO₂, empurram a conta para os mais pobres. O Acordo de Paris (2015) estabeleceu promessas voluntárias e evasivas. A criação do fundo de perdas e danos, anunciada com estardalhaço em Glasgow e reafirmada em Dubai, continua sem clareza de valores ou compromissos concretos. A decisão do TIJ recoloca o debate em novos termos: o da justiça climática, e não mais o da “colaboração voluntária”.
Trump, petróleo e o desmonte das prioridades
Enquanto isso, o mundo gira em torno de Trump. Sua volta ao poder em 2025 instaurou um ambiente de negação climática explícita. O desmonte da EPA (Agência de Proteção Ambiental), o retorno às energias fósseis como “motores da liberdade” e os ataques a regulações ambientais nos EUA estão sendo exportados como discurso político global. Líderes autoritários e seus discípulos adotam o mesmo léxico: “liberdade energética”, “soberania de carbono” e, claro, a velha guerra contra o “marxismo climático” — rótulo favorito da extrema-direita para atacar qualquer medida de transição verde.
Com a imprensa capturada por escândalos diários, a cobertura climática minguou. É preciso dizer: o clima saiu do radar. O espaço ocupado pelo calor extremo de Phoenix ou pelas cheias em Bangladesh é, na melhor das hipóteses, relegado às editorias de “curiosidades”. E isso tem consequências. Sem pressão pública, sem mobilização, sem urgência, os governos voltam aos velhos hábitos: licenças para petróleo no Alasca, flexibilização de regras ambientais no Brasil, queimadas silenciosas no Cerrado.
Belém como encruzilhada: oportunidade ou fracasso?
A COP 30 será histórica por dois motivos. Primeiro, por acontecer em plena Amazônia brasileira, lar da maior biodiversidade do planeta e verdadeiro termômetro da saúde ecológica mundial. Segundo, porque será a última COP antes de 2030, ano-chave para cumprir os compromissos do Acordo de Paris. Se até lá não houver cortes drásticos nas emissões, os cientistas alertam que ultrapassaremos os 1,5 °C de aquecimento com efeitos irreversíveis.
O Brasil tem, portanto, uma oportunidade e uma responsabilidade. O governo Lula precisa usar sua liderança internacional para pautar o debate climático como questão de justiça e não apenas de emissões. Isso significa: fortalecer o fundo de perdas e danos; defender mecanismos jurídicos internacionais que obriguem os poluidores a pagar; pressionar para que o BRICS estabeleça um fundo de transição ecológica para o Sul Global; e apresentar um plano nacional ambicioso, transparente e exequível.
É hora de reposicionar o debate climático como projeto civilizacional. Isso inclui a proteção dos povos indígenas, o fim da financeirização da natureza e o combate ao extrativismo predatório, inclusive aquele travestido de “greenwashing”. Como lembrou recentemente a cientista política Marilene Corrêa, “não há transição justa sem democracia ambiental nem soberania popular sobre os territórios”.
Solidariedade periférica e o novo internacionalismo climático
Enquanto os fóruns oficiais fracassam, alternativas surgem. Redes de solidariedade ambiental crescem nas periferias de Istambul, Cidade do México, Beirute e Luanda. Mulheres amazônidas, povos quilombolas, favelas e assentamentos agroecológicos tecem outro modelo de desenvolvimento: regenerativo, popular e baseado em justiça social. A COP 30 precisa escutar essas vozes.
Nesse sentido, é preciso fazer um chamado: que o Brasil proponha um “Acordo de Belém”, firmado não apenas entre Estados, mas entre povos. Um pacto global para a vida que vá além do carbono, abrace a agroecologia, repense a urbanização e enfrente as cadeias globais de consumo que devastam territórios inteiros para manter o fast fashion e a monocultura de soja.
Por que o fast fashion?
Ofast fashion (ou “moda rápida”) é o modelo de produção e consumo de roupas baseado em tendências de curto prazo, com peças fabricadas em grande escala, a baixo custo, e com altíssima rotatividade. O objetivo é fazer com que o consumidor compre frequentemente, impulsionado por novidades semanais nas lojas.
Esse sistema tem três características principais:
- Produção acelerada e barata – grandes marcas terceirizam a produção para países com mão de obra barata, como Bangladesh, Vietnã e Etiópia, muitas vezes em condições precárias, com salários ínfimos e jornadas abusivas.
- Obsolescência programada da moda – o ciclo de tendências é artificialmente encurtado. Em vez de duas coleções por ano (inverno e verão), empresas lançam dezenas por temporada, incentivando o descarte constante de roupas.
- Impacto ambiental massivo – a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. Gasta bilhões de litros de água, gera resíduos têxteis e é responsável por cerca de 10% das emissões globais de CO₂. Muitas peças descartadas vão parar em lixões ou são exportadas para países africanos, gerando “cemitérios de roupas”, como o do deserto do Atacama.
Assim, o fast fashion é um símbolo do consumo insustentável, que explora trabalhadores, polui o planeta e impõe um modelo cultural de descartabilidade. No contexto climático e da justiça ambiental, questioná-lo é fundamental, especialmente quando pensamos em soluções sistêmicas, que envolvam mudanças nos padrões de produção e consumo.
Reacender o debate: uma tarefa de todos
O mundo está à beira do colapso climático e essa frase já não causa espanto. O que deveria ser manchete diária virou ruído de fundo. Para reacender o debate climático, é preciso desafiar as narrativas dominantes, recuperar o fio da justiça e lembrar, sempre, que o futuro não está escrito. A COP 30 será o palco da encruzilhada: ou escolhemos o caminho da reparação e da vida, ou naturalizamos a catástrofe como destino.
E o Brasil, com sua história, seu povo e sua floresta, não pode se omitir.







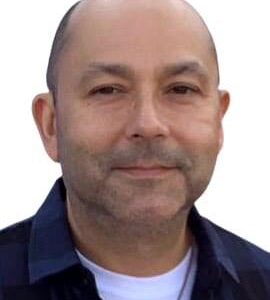


Comentários