Publicado em: 27 de julho de 2025
Corria o ano de 1971 quando Zé Rodrix e Tavito resolveram ter uma casa no campo. Por intermédio de Elis Regina, alguns meses mais tarde tornaram pública a decisão: queriam a casa no campo e lá ficariam do tamanho da paz, ouvindo o silêncio das línguas cansadas, plantando amigos, discos, livros e nada mais.
Ao fim daquela década, em 1979, Gilson e Joran aderiram à ideia. Cansados de andar a esmo pela cidade, esbarrando em solidão enquanto procuravam amizade, decidiram que era hora de partir. Como destino um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, sob o abrigo de uma casinha branca de varanda, com um quintal e uma janela de onde fosse possível ver o sol nascer.
Estávamos ainda na segunda metade do Século XX, e o sonho da vida tranquila no interior já permeava o sono intranquilo dos habitantes das grandes cidades. Ao caos urbano que se prenunciava na precariedade das periferias, na insanidade da violência, na hostilidade do trânsito e na insalubridade do crescimento desigual e desordenado, contrapunha-se a mansidão do tempo que corre devagar, a delicadeza das cercas e muros baixos, a placidez das janelas abertas, a beleza das noites estreladas e o lirismo eloquente do silêncio.
Onirismo, dirão alguns, mero devaneio. Outros apontarão as pretensas vantagens da vida citadina, benefícios da modernidade, exaltação da praticidade. Restaurantes, bares, estrutura hospitalar, comércio farto e variado, comida de rua entregue na porta e, mais recentemente, telefonia celular, internet e um exército de motoboys ensandecidos sempre à disposição, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, tudo full time, tudo delivery, tudo on line.
Quase 50 anos depois o que era um simples anseio por sossego virou, para muitos, necessidade terapêutica, imposição de ordem médica, condição elementar de sobrevivência e manutenção da sanidade mental. A cidade grande, e com ela uma interminável coleção de urgências, mensagens, sistemas e aplicativos, transformou-se num desafio extremo que poucos têm sido capazes de superar, algo como um instrumento medieval de tortura a produzir mal-estar, angústias e um amplo espectro de transtornos psicossomáticos.
Com a cidade grande e sua luminosidade excessiva apagaram-se as estrelas, o céu noturno empalideceu, perdeu brilho, opulência e poesia. Já não enxergamos as constelações, deixamos de nos guiar pelos astros. Navegar hoje em dia tem outro significado, tornou-se impreciso, sedentário e associal. Com a cidade grande e seu ruído desmesurado e deseducado desapareceu o silêncio, adoeceu a quietude, desfigurou-se a paz. Já não ouvimos o barulho do vento a sacudir as folhas das árvores ou a uivar e sibilar pelas frestas das casas, numa fantasmagoria doméstica imprescindível à infância feliz. Já não escutamos o canto dos pássaros, o zumbido das cigarras e a insuperável melodia da chuva.
Aliás, em relação ao barulho não é exagero afirmar que vivemos hoje, em Belém, em permanente estado de luto pelo silêncio covardemente assassinado a sangue frio, cadáver insepulto a putrefar em via pública. Não há mais limites para a insensatez quando se trata de barulho. De dia, de noite, nas ruas e praças da cidade, na orla e na areia das praias, em bares de calçada e estabelecimentos comerciais em geral, a poluição sonora foi normalizada ao limite da barbárie.
Cada um ouve o que quer, no volume que lhe apraz, sem se importar com o fato inconteste de incomodar centenas de pessoas ao redor. Danem-se os vizinhos, que se explodam as crianças, os idosos, os autistas e os animais domésticos. Aos infernos com o direito ao sossego, às favas com o direito ao silêncio. Os incomodados que se retirem, que deixem de gozar do merecido descanso no sagrado seio de seus lares, que esqueçam a possibilidade daquela soneca revigorante nas lúdicas redes que costumavam atar nas varandas, que não pensem em finais de semana de repouso em suas casas de veraneio. De tudo isso fomos espoliados pela praga incontrolável do barulho, pandemia de estultice e vulgaridade.
Nesse cenário desolador um único e ensurdecedor silêncio desponta: o do Poder Público, leniente, inerte, cúmplice dessa prática criminosa, partícipe direto dessa intolerável violação de garantias.
É uma pena, eis que o silêncio, além de um direito, é um tesouro, bem de valor inestimável, patrimônio imaterial de qualquer sociedade que se pretenda civilizada, régua que mede com clareza o estágio dessa civilização. É uma lástima se considerados os efeitos nocivos da exposição contínua ao ruído imoderado.
Vale lembrar as lições de Alain Corbin, professor emérito da Universidade de Sorbonne, grande estudioso da sensibilidade com obras publicadas sobre desejo, paisagens, ignorância e silêncio. No prelúdio de uma delas – História do Silêncio: Do Renascimento aos nossos dias –, editada em Portugal pela Quetzal, ele escreveu:
“O silêncio não é apenas a ausência de ruído. Nós quase o esquecemos. As referências auditivas desnaturaram-se, enfraqueceram, dessacralizaram-se. Intensificaram-se o medo ou mesmo o terror suscitados pelo silêncio. No passado, os ocidentais desfrutavam a profundidade e o sabor do silêncio. Consideravam-no como condição do recolhimento, da escuta de si mesmo, da meditação, da oração, do devaneio, da criação; sobretudo como lugar íntimo do qual a palavra emerge. Especificavam as suas táticas sociais. A pintura era para eles palavra de silêncio. A intimidade dos lugares, a do quarto e dos seus objetos, como a da casa, era atravessada pelo silêncio. Desde o advento da alma sensível no século XVIII, os homens, inspirados pelo código do sublime, apreciavam os mil silêncios do deserto e sabiam ouvir os da montanha, do mar, do campo. (…) Atualmente, é difícil ficar em silêncio, o que nos impede de ouvir a palavra interior que acalma e alivia. A sociedade insta à submissão ao ruído a fim de se tornar parte do todo, em vez de se manter à escuta de si mesmo. Desta forma, altera-se a própria estrutura do indivíduo.”
O trabalho de Corbin é monumental, leitura que se deveria ter por obrigatória, inclusive pelo esforço de compilação da opinião de grandes personalidades sobre o tema. Veja-se por exemplo o que escreveu Gaston Bachelard: “…a noite amplifica as ressonâncias auditivas que compensam a anulação das cores. Daí a audição ser o sentido da noite. Enquanto as formas são contidas no espaço noturno, os ruídos são engastados no silêncio e chegam ao ouvido de maneira imperceptível.” Ou ainda a poética definição de Marcel Proust contida numa expressão de Legrandin, personagem de Em busca do tempo perdido: “Chega na vida uma hora (…) em que os olhos já apenas toleram uma luz, a de uma bela noite (…) em que os ouvidos já não podem ouvir música, senão aquela que toca o luar na flauta do silêncio.”
Talvez fosse esse o tesouro que Zé Rodrix, Tavito, Gilson e Joran pretendiam encontrar. Talvez seja essa a fortuna que perdemos um pouco a cada dia, afogados na aspereza dos sons da cidade grande, amplificados pela falta de educação que viceja, erva daninha a nos envenenar o juízo, brutalizando os sentidos, roubando-nos a capacidade de contemplação.
Eu também quero uma casa no campo, lugar de mato verde, pra plantar silêncio e colher sossego.
* O conteúdo do artigo reflete a opinião pessoal da/o colunista


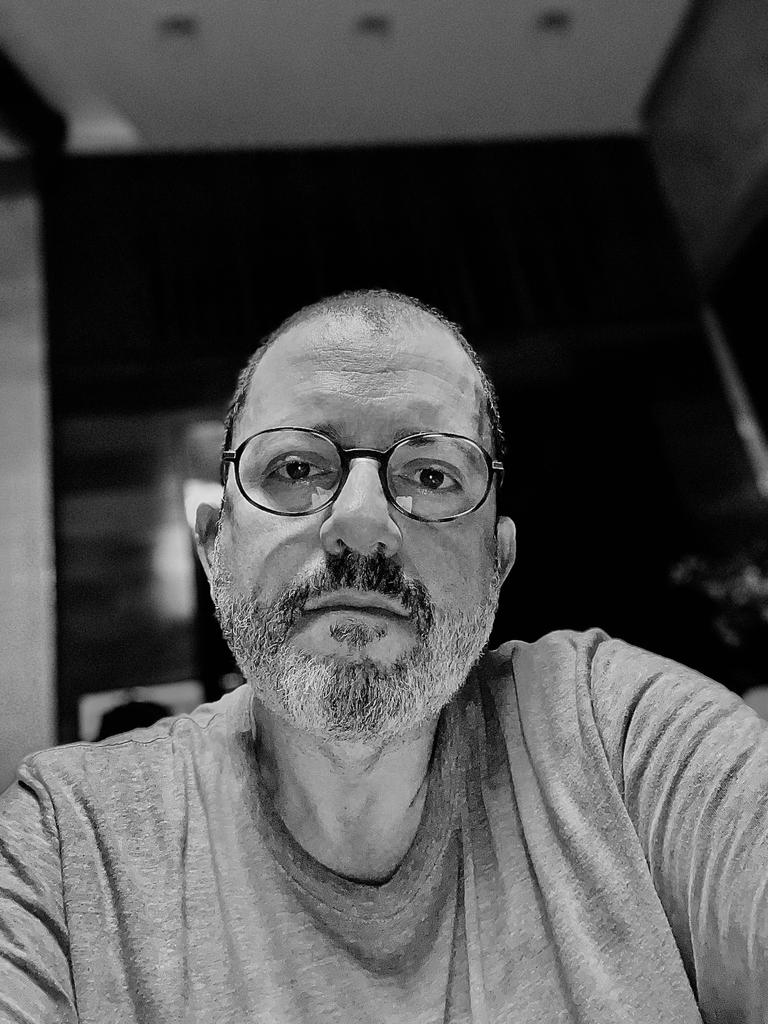

Comentários