Publicado em: 6 de setembro de 2025
O principal problema das obras da COP30 não é a falta de recursos, mas a falta de confiança.
Não são poucos os influenciadores digitais — de Belém e de fora — que produzem conteúdo a partir da desconfiança dos moradores em relação ao evento que ocorrerá agora em novembro. Do outro lado, os organizadores tentam criar um clima de defesa diante do que consideram ataques à identidade e à cultura paraense, mas esse esforço ainda não tem surtido efeito. Um olhar mais atento revela que a crise central na expectativa da COP30 é, de fato, a confiança — ou melhor, a sua ausência. E ela não começou com o anúncio da conferência em Belém: suas raízes são bem mais profundas.
A literatura sobre confiança social é clara ao apontar que ela é um dos pilares invisíveis da vida urbana. Nas cidades, manifesta-se de três formas distintas. A confiança disposicional surge da convivência direta entre vizinhos, geralmente de comunidades enraizadas há anos ou gerações. A percepção de confiança está ligada a códigos estéticos e culturais: a forma de se vestir, a cor da pele — sim, os preconceitos raciais também — ou mesmo a imagem construída sobre quem vive em determinado bairro. E existe ainda a confiança institucional, consolidada ao longo do tempo por pessoas ou entidades que se tornam referências e guardiãs da comunidade.
É justamente na confiança institucional que reside a crise relacionada às obras da COP30. O histórico fala por si: nas últimas três décadas, obras foram deixadas inacabadas ou concluídas sem entregar o prometido – BRT?. A desconfiança, no entanto, não se resume a desvios de recursos ou falhas de gestão. Ela se revela a cada passo na cidade. Entre os anos 1970 e 1990, Belém trocou muros baixos por grades altas, muitas vezes cercadas por arame farpado e fios elétricos. Muretas, antes pontos de descanso e convivência, passaram a receber ponteiras que afastam tanto vizinhos quanto moradores em situação de rua. Até as calçadas, que deveriam ser espaços de passagem e encontro, foram degradadas: tornaram-se irregulares, intransitáveis ou apropriadas por motocicletas.
Esse cenário revela o profundo descrédito da população em relação às instituições e às próprias normas de convivência urbana. Ainda assim, há caminhos para reconstruir esses elos — e eles passam necessariamente pelo digital. Plataformas como Uber e AirBnb já mostraram como avaliações mútuas criam reputações que funcionam como capital de confiança, reproduzindo no ambiente virtual a lógica da confiança disposicional. Da mesma forma, interfaces visuais transparentes e protocolos de segurança reforçam a confiança institucional.
É dessas metodologias digitais que as instituições deveriam se inspirar, criando protocolos de transparência e participação capazes de restabelecer laços com a população. O que hoje aparece nas redes sociais como “polêmicas” e ataques não está fabricando uma crise: está expondo uma ferida antiga. O paradoxo é evidente: nas ruas, a confiança se fragiliza; nas redes, encontra novos caminhos para florescer. O futuro das cidades — e da COP30 em Belém — depende de como saberemos equilibrar esses dois mundos: o concreto da vida urbana e o intangível das telas.






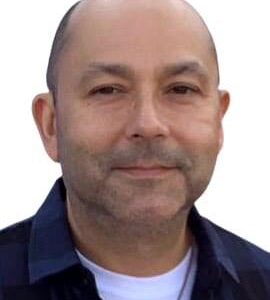



Comentários