Publicado em: 9 de novembro de 2025
Num livro chamado O real e seu duplo – ensaio sobre a ilusão (2008), o filósofo francês Clément Rosset (1939-2018) discorreu sobre as duas dimensões fundamentais do homem: a realidade e a fantasia, o mundo verdadeiro dos atos e fatos da vida, onde tudo materialmente acontece, inclusive a morte; e o universo idealizado, onírico, quimérico, com o qual, não raro, guardamos maior identidade, ainda que ilusoriamente.
Quando uma destas dimensões se torna fardo e sacrifício, é comum nos abrigarmos na outra. Ora estamos com a cabeça no mundo dos sonhos e a vida nos chama a botar os pés no chão, ora a realidade é dura e penosa, lançando-nos na busca do pretenso conforto com que a ilusão nos afaga. Nas palavras de Rosset: “Não me recuso a ver, e não nego em nada o real que me é mostrado. Mas minha complacência para por aí. Vi, admiti, mas que não me peçam mais. Quanto ao restante, mantenho o meu ponto de vista, persisto no meu comportamento, exatamente como se não tivesse visto nada. Coexistem paradoxalmente a minha percepção presente e o meu ponto de vista anterior.”
Somos, portanto, nós e nossos duplos, eu sou o eu real e o eu com que me iludo, e a oscilação entre ambos é que me situa no mundo. Essa oscilação é a realidade contestada pela ilusão do equilíbrio – de poeta e louco todo mundo têm um pouco.
Em estudos ainda mais profundos, que passam por Otto Rank (1884-1939) e Sigmund Freud (1856-1939), psicanalistas austríacos, a origem do duplo remonta a tempos imemoriais e traduz uma saída criada pelo homem para vencer a finitude: ao corpo mortal e fugaz contrapõe-se a alma, imortal e eterna, primeiro duplo do homem.
É interessante, todavia, observar que o duplo nem sempre é personalíssimo, nem sempre é a duplicação do próprio eu, ocorrendo com frequência que, perante a dor e o sofrimento, o duplo pretenda prolongar a existência de quem não aceitamos perder. A morte, aqui, é o real em sua face mais implacável e inclemente, a nos reservar uma única saída: negá-lo, repeli-lo, refutar sua ação da forma que nos é possível, ou seja, pela ilusão paliativa do duplo.
A perda irreparável é a realidade de que urge escapar; a mente se recusa a compreender o que os sentidos já perceberam, e o duplo nasce como uma proteção contra o choque insuportável da realidade, assumindo o rosto da negação, exatamente o que Freud considerou como fase inicial do luto – agimos como se o morto ainda vivesse, mantemos seu quarto, cuidamos dos seus pertences, conservamos seu lugar à mesa. Falamos do morto no tempo presente, como se a qualquer momento fosse possível reencontrá-lo; relembramos tudo o que ainda tínhamos a lhe dizer, numa luta inglória e inexitosa contra o remorso, a tristeza e a angústia do desconhecido, construindo um cenário ficcional, paralelo, castelo de areia a ruir passivamente, mais cedo ou mais tarde, ante o inevitável movimento das marés – a verdade e o real persistem e não cedem lugar à ilusão.
Na psicologia fala-se em estágios do luto – negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. No primeiro a incredulidade advém do impacto inesperado; no segundo a impotência dá lugar à revolta; no terceiro busca-se negociar com a realidade, como se fosse possível reverter a perda; no quarto a verdade se impõe trazendo melancolia e abatimento; no quinto alcança-se a compreensão de que a ilusão é pó que o sopro da vida dispersa, a lucidez prevalece – o que Rosset chama de reencontro com o real -, o duplo se dissolve num vazio enfim reconhecido como domínio da verdade, terreno fértil para a reconciliação do enlutado consigo mesmo, com sua própria singularidade e finitude. Na morte do outro aceito a minha própria morte, reconhecendo que a ilusão do duplo jamais subjugará a força original do fato concreto.
A saudade toma então o lugar da dor, e traz consigo a paz que nos permite ouvir a eloquência do silêncio contido nas vozes supostamente caladas. Volta a haver poesia – “Morreste. E ficaste em mim, como um silêncio que fala. Nada termina, tudo continua, mudando apenas de forma” (Miguel Torga, 1907-1995). “A memória de ti calma e antiga, habita os meus caminhos solitários, enquanto o acaso vão me oferece os vários rostos da hora inimiga. Nem terror nem lágrimas nem tempo me separarão de ti, que moras para além do vento” (Sophia de Mello Breyner Andresen, 1919-2004). “Fiz uma canção para dar-te; porém tu já estavas morrendo. A morte é um poderoso vento. E é um suspiro tão tímido a arte… É um suspiro tímido e breve, como o da respiração diária. Choro de pomba. E a morte é uma águia cujo grito ninguém descreve…” (Cecília Meireles, 1901-1964).
Perdi meu pai em dezembro de 2018, e desde então vivi um luto em que não houve negação ou raiva, embora barganha e depressão tenham sido abundantes. Nunca processei bem tudo que me veio à mente nas mais de sessenta horas transcorridas entre a decisão de voltar a Belém, partindo de Roma, e o momento de encontrá-lo sedado na UTI do hospital, nunca aceitei bem o último diálogo que não pudemos travar, nunca digeri bem o pedido que fiz ao intensivista para que o deixasse partir naturalmente, sem choques, massagens e outros procedimentos que já não faziam sentido algum, nunca tive coragem de confrontar o medo que me impediu de vestir seu cadáver.
Há poucos dias, contudo, num momento despretensioso e descontraído de leitura, tendo em mãos o novo livro de um autor português que prezo bastante – A Montanha, de José Luís Peixoto, encontrei respostas que nem imaginava ainda estar procurando. Li e reli três ou quatro vezes os dois parágrafos que me trouxeram inesperada revelação. De imediato conectei o que estava a ler com outros textos do mesmo autor, também ele um passageiro confesso do luto pela perda do pai, e aí então alcancei a paz e a serenidade que me faltavam.
Para muitas questões a vida não nos dá explicações, não nos oferece razões lógicas que nos permitam entender o que conosco se passa. Que bom que é assim, afinal sentir vale mais que compreender.
O último livro de José Luís Peixoto relata experiências que o escritor vivenciou ao conviver com pacientes do Instituto de Oncologia do Porto, alguns a caminho da cura, ou buscando-a, outros tomando ciência do fim, conformando-se com a inevitabilidade da morte. Nas entrelinhas, o renomado romancista passa a limpo, com imensa ternura e inspirador lirismo, tudo aquilo que enfrentou quando o próprio pai adoeceu e partiu.
Num determinado trecho, José Luís escreveu, e sou-lhe grato por isso:
“Não se pode explicar tudo. Tal como o cancro não é só uma doença, mas um conjunto de patologias de diferentes tipos, com diferentes origens e comportamentos, que partilham o crescimento descontrolado das células e, apenas por isso, recebem a mesma designação, cancro; também as reais explicações de um problema são múltiplas. Quando é dada uma só resposta a determinada pergunta, trata-se sempre de uma simplificação.
Procurar padrões é um dos processos de funcionamento do cérebro. A ausência de explicação causa desconforto. A mente humana tende à narrativa, procura causas até para o que acontece sem critério, sem ordem perceptível, até para o que acontece de modo abertamente caótico e arbitrário. Esse é um mecanismo de sobrevivência que, desde tempos sem registo, ajuda a prever perigos e a tomar decisões. A tentativa de explicar tudo advém de mecanismos cognitivos e emocionais elementares. Ainda assim, de um ponto de vista filosófico, tudo é mais do que qualquer indivíduo pode conceber, explicar é uma tarefa que nunca termina.”
Estou em paz, Pai, finalmente sabedor de que jamais precisamos de nos explicar.
* O conteúdo do artigo reflete a opinião pessoal da/o colunista



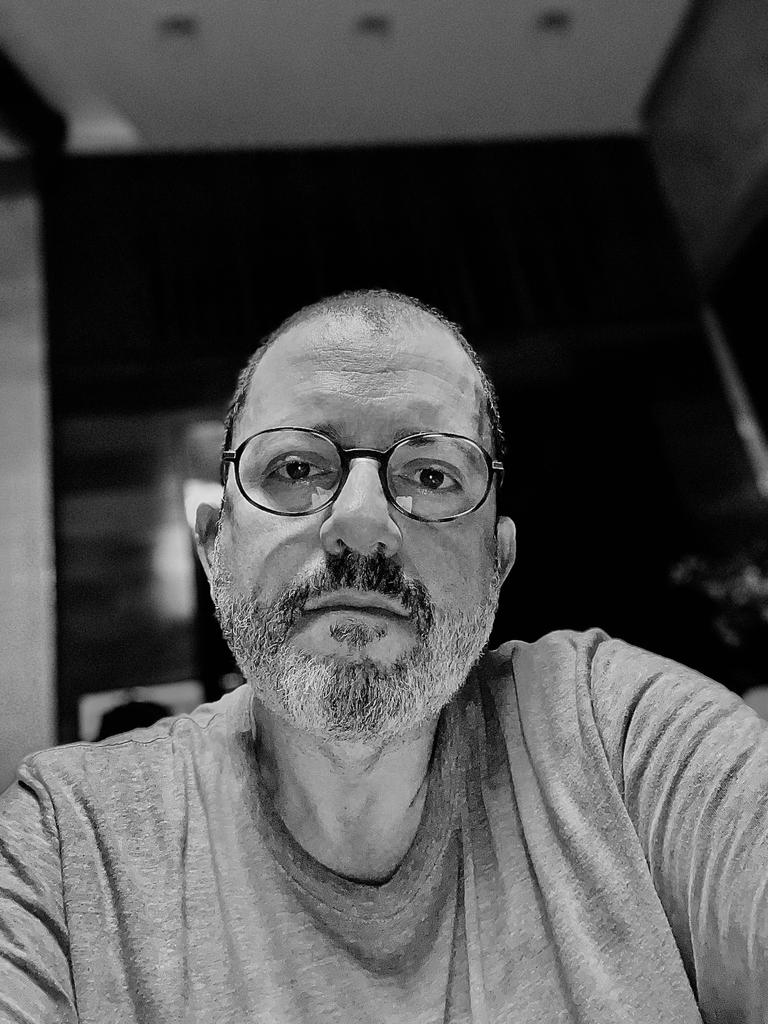

Comentários