Publicado em: 4 de setembro de 2025
Há 30 anos, em agosto de 1995, eu defendia minha dissertação de mestrado, intitulada “A Cidade Sebastiana”, que tinha por subtítulo “Era da Borracha, memória e melancolia numa capital da periferia da modernidade”. Escrita em forma de ensaio, com elementos notórios de ficção e com o recurso narrativo das “imagens dialéticas”, desenvolvido por Walter Benjamin, hoje compreendo que apresentar e defender esse trabalho em banca consistia num ato meio de coragem e meio de loucura só possível diante da peculiar autoestima que, impunemente (e, talvez, imprudentemente), me envolvia. E isso no contexto de que eu, desde sempre, ter sido um crítico de todos os proselitismos das academias e um defensor de que o saber não depende de títulos e diplomas, mas sim de experiência, inteligência das pessoas com que se conversa e de suas (e nossas) narrativas.
A dissertação foi orientada pelo filósofo Benedito Nunes, a quem devo imensamente por todo o diálogo contrupido e defendida na Universidade de Brasília (UnB) perante uma banca formada por um historiador da filosofia primeva, sobretudo um intérprete heraclitiano dos estóicos – o professor Fernando Bastos; por um mestre da relação entre comunicação, memória social e quotidianidade, o professor Sérgio Dayrell Porto; por uma genial intérprete das intersubjetividades, a socióloga e historiadora Angélica Madeira e de uma das grandes mestres dos estudos sobre a formação das subjetividades e das ideologias de classe no Brasil, Clara de Andrade Alvim, a filha de Rodrigo de Mello Franco de Andrade – que todos conhecem como fundador do Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional – e que, certamente em diálogo com a obra de seu pai – desenvolvia um conceito importante para mim, o de que o “imaginário social”, tal como as dores, e melancolias sociais, deveriam, também, ser pensadas enquanto patrimônio cultural – e, se o digo, é porque foi de meu diálogo com Clara, essa professora tão querida, que “A Cidade Sebastiana falou sobre o “imaginal” da cultura de Belém, de uma das hermenêuticas de Belém.
Todos eles foram meus professores e todos eles, antes desse evento de defender uma dissertação de mestrado, me aconselharam, dizendo mais ou menos o seguinte: será que vale à pena, realmente, apresentar esse texto a uma banca? Não seria melhor apresentar a versão “estrita” do teu trabalho?
As questões que me eram colocadas, por esses e outros mestres, eram: porque utilizar o recurso benjaminiano – tão pouco discutido – das imagens dialéticas? (Afinal, Walter Benjamin teve sua tese reprovada, justamente, por utilizar esse recurso) narrativo-analítico). E, ainda: por que fundir as vozes dos meus interlocutores à minha própria, jogando com a figura do narrador polifônico? Por que permitir, ao texto, as pulsões e os impulsos literários, notadamente nas descrições? Por que romper, consciente, propositadamente e ostensivamente com as normas vigentes da ABNT e com as convenções acadêmicas?
Toda a minha banca recomendou que eu apresentasse a versão “estrita” da dissertação, o texto básico da minha dissertação, que todos conheceram, o contexto condicionado e conformado, mais compacto, que seguia o fio condutor cartesiano das hipóteses comprovadas por fontes documentais e pela memória oral coletada e discutidas à luz de um referencial reconhecido por seus méritos, com todas as correlações formais, estrutural e estritamente estabelecidas. no contexto preciso do debate intelectual da UnB dos anos 1990.
Muitos me aconselharam a não apresentar minha versão “expandida”. Docentes, colegas e amigos. Inclusive o Chico, meu melhor amigo na UnB, que me avisou que, seu eu insistisse nos meus benjaminiamismos não conseguiria seguir uma carreira acadêmica – como era o propósito de todos que, então, faziam um mestrado.
Ocorre que a tal versão expandida – que é o meu texto – na minha percepção, tanto daquele tempo como de hoje, tem a haver com a atitude política de perguntar o que é a “Academia” diante do seu contrato fundador com três coisas: a) o pensar, b) o ouvir o outro e c) o dizer junto com ele.
Vejam, estávamos em 1995 e eu, como muitos, tínhamos compromissos com a democratização do saber. Todos estávamos inebriados por nossa nova Constituição e pelos debates sociais e políticos de então, num país em franca redemocratização e marcado pelo impeachment do corrupto Collor de Mello, em 1992 (e eu estava na Esplanada, junto com o querido amigo Edney Martins, vibrando por isso) – e eu estava presente, bem presente, nesse processo, em todos esses processos, exigindo e produzindo desconstruções dos saberes convencionais.
Não obstante, penso que, por alguma razão, eu não era uma pessoa muito racional e nem muito racionalizante naquele tempo (acho que eu tinha razões para isso, alguns saberão porquê). Eu tinha duas versões prontinhas da minha dissertação para entregar, e optei pela versão “expandida” (a edição “do autor” e não a edição do “mercado acadêmico”). Não me moveu nenhuma coragem particular, nenhuma pretensão de revolucionar a “Academia” mas, somente, um desejo, sincero, de pensar a ciência como um ato do mundo da vida (e não externo a ele; não externo ao mundo da vida, que é o mundo do estar-junto e do ser-aí-com-o-outro, do pensar-junto e não do pensar como uma voz “de autoridade”).
E isso era a essência: defender uma dissertação era – e ainda é, para mim – um ato inaugural, um ato fundador, um ato que marca o começo de uma trajetória com compromissos que, até hoje, se renovam.
Feito dessa maneira, recebi meu louvor acadêmico, recebi as láureas e o título e até a recomendação para publicação, mas bem sei como meu texto foi mal entendido e o quanto ele se tornou inassimilável, do ponto de vista de uma ciência melhor assentada sobre o estatuto cartesiano da realidade, por muitos e, particularmente, num meio acadêmico conformista e conformado.
O que, evidentemente já era esperado, porque nunca fui desavisado, ingênuo, parvo ou santo.
O que tenho a dizer é que, conscientemente, insisti em defender uma dissertação de mestrado que tinha uma dimensão polifônica, com vozes imaginativas, próprias de meus interlocutores que atravessavam a voz do narrador cientifico, fazendo desta, se muito, um interlocutor diegético (ou transdiegético, ou polidiegético, sei lá).
Claro eu usei de conectivos narrativos que, quem for atento perceberá, conectores que podem permitir quais vozes começam a falar em quais contextos. Mas isso restam coisas a explicitar mais tarde, algum dia – e quem sabe.
O que importa dizer agora é que no contexto dos 30 anos que escrevi esse texto, ocorre o contexto da COP 30 e que percebo meu ato pessoal inaugural de pensar a Amazônia foi, ao mesmo tempo, um ato científico, político e literário.
30 por 30. 30 anos de “A Cidade Sebastiana” + 30 COPs, ou COP 30.
Provavelmente minha vida acadêmica teria sido mais fácil sem esse livro – mas seu contexto pode ser compreendido. Bem para além das leituras que eu fazia naquele tempo, bem além do Jetztzeit benjaminiano e do Augenblink heideggeriano, que atravessam o trabalho, havia os fatos pessoais que narrei duas crônicas atrás, neste site (a crônica a respeito do falecimento de minha mãe, que ocorria em paralelo, pois concluí e defendi minha dissertação sabendo da possibilidade da sua morte), e que coincidiam com tudo isso.
Há 30 anos, nesse contexto, eu pensava intensamente sobre Belém e refletia sobre os imaginários da cidade. Continuo fazendo isso.
Neste ano de 2025mesmo publiquei um livro de contos, pela Editora Patuá, que começou a ser escrito em paralelo à minha dissertação: “Apontamentos sobre a cidade imaginária de Belém”. Neste livro, também lido com os imaginários de Belém. E, no contexto de voltar a pensar sobre os imaginários e as imaginações de minha cidade, me pergunto: quais imaginários envolvem Belém neste momento, neste ano em que ela vai receber a COP 30? Diante desse evento, como Belém se imagina e como imagina seu papel de pensar (e imaginar) a Amazônia?
E também me pergunto: no ano da COP 30, naquilo que eu próprio penso, no trabalho que faço hoje, 30 anos depois de “A Cidade Sebastiana”, o que continua, o que muda, em relação aos imaginários e sentimentos de derrota da cidade sebastiana?
As duas questões se entrelaçam, porque, por um lado, o sebastianismo belemense é, efetivamente, uma derrota do pensamento. E, por outro, o messianismo como a COP 30 vem sendo tratada – por autoridades, pela mídia e por parte da intelectualidade – tende a sugerir que Belém continua Sebastiana, mais Sebastiana do que nunca.
Vou desenvolver essa ideia, mas permitam que comece retomando o mote do meu livro. A expressão “a cidade sebastiana” refere-se à cidade de Belém do Pará em um contexto literário e histórico, inspirado no mito de Dom Sebastião. Esse mito é central na cultura portuguesa e se dissemina por todo o mundo impactado pela colonização portuguesa. Ele se conecta com as ideias de redenção, salvação e a busca por um futuro glorioso que nunca chega. Como se sabe, Dom Sebastião, rei de Portugal, se lançou numa aventurosa guerra contra os mouros, no atual Marrocos, e desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir, em 1578. Com seu sumiço, iniciava o fim da dinastia de Aviz – responsável pelos grandes descobrimentos. O tio avô do rei desaparecido, um cardeal perto da morte, ainda assumiu o trono, mas por pouco tempo, e o fato é que o sumiço de Dom Sebastião iniciou a crise dinástica que levaria à União Ibérica e à consequente perda de independência portuguesa. Como o corpo do Rei nunca foi encontrado criou-se um mito, uma expectativa, de que algum dia ele retornaria, para restituir a grandeza e a independência de Portugal.
Diz-se “sebastianista”, portanto, às práticas e costumes sociais que, plenos de ressentimento a respeito da perda das promessas do passado, se deixam envolver numa crença messiânica em relação ao futuro.
No meu livro “A Cidade Sebastiana” utilizo essa expressão buscando construir uma crítica à nostalgia, à melancolia e, sobretudo, ao imobilismo que, a meu ver, constituem parte importante do ethos das elites paraenses.
Não é Belém que é Sebastiana, é o imaginário a respeito de Belém, constituído historicamente por suas elites, que o é.
A cidade é frequentemente retratada, afinal, como um espaço de espera por um futuro redentor ou uma grande transformação, um ideal quase utópico de progresso que nunca se concretiza e que perfaz, assim, certa concepção sobre o “desenvolvimento”.
Talvez a ironia presente no título desse meu livro não tenha sido percebida por todos os seus leitores, mas, como sabemos, leituras – seja de um livro, seja de um conjunto de políticas públicas, seja da própria realidade social – são produzidas a partir de imaginários.
Sebastianista é a postura messiânica de pensar a COP como redenção e de pensar Belém como uma cidade bem maquiada para recebê-la. Por outro lado, a verdadeira redenção, a meu ver, está em tornar Belém – antes, durante e depois da COP – um espaço para a enunciação das reivindicações e de denúncia das exclusões presentes, historicamente, na Amazônia. Não que obras e melhorias urbanas não sejam necessárias – claro que são, e muito. Mas a função da COP é o debate, a reflexão e – já que vai ser realizada na Amazônia – a percepção concreta e realista a respeito da complexidade e das grandes problemáticas amazônicas, sobretudo as socioambientais.
Evidentemente a realização da COP 30 é um momento propício para Belém pensar sobre si mesma, sobre a Amazônia e sobre o seu papel (ou melhor, sobre a sua responsabilidade) de pensar a Amazônia. Nossa cidade tem um papel histórico e um lugar histórico de refletir sobre a Amazônia. Mais que isso: de refletir e de romper, sempre que possível, os estereótipos que envolvem a Amazônia.
Mas, como superar estereótipos, numa região tão pesada deles?
Para isso, se faz necessário conhecer e refletir sobre os próprios imaginários, superar as ideias sobre o passado, as ilusões sobre o futuro, os estereótipos sobre o presente e dialogar com aquilo que realmente importa: os efeitos da desigualdade social, da cobiça internacional sobre os recursos naturais amazônicos, da mudança climática e, ainda, as condições e reivindicações de direitos das populações amazônicas em geral.
Meu livro “A Cidade Sebastiana” faz 30 anos. Ele só foi publicado em 2010, numa parceria minha com uma editora (na verdade, uma gráfica) que vendeu 6.937 exemplares nos últimos 15 anos (o que, convenhamos, é um número expressivo para uma edição independente).
Meu livro “Apontamentos sobre a cidade imaginária de Belém” foi lançado este ano. E fica aqui o compromisso de ampliar este texto aqui e fazer um livro sobre os conflitos entre os imaginários sociais e as disputas entre as narrativas de Belém sobre a Amazônia – sobre nosso imaginais, tão mais amplos d que nossos imaginários…
Se alguém quiser ler “A Cidade Sebastiana”, o livro está disponível em download gratuito no site (https://www.fabiofonsecadecastro.org/a-cidade-sebastiana). Se quiser um dos últimos exemplares na versão impressa (eventualmente com dedicatória) me contacte por mensagem no instagram @fabiohoraciocastro ou pelo email fabiohoraciocastro@gmail. O mesmo para o livro “Apontamentos sobre a Cidade Imaginária de Belém” – essa continuação ficcional de “A Cidade Sebastiana”.
* O conteúdo do artigo reflete a opinião pessoal da/o colunista



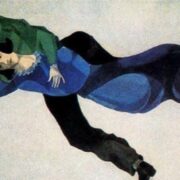



Comentários