Publicado em: 21 de agosto de 2025
Recentemente o Brasil ganhou uma nova edição do clássico do pensamento brasileiro “A Redução Sociológica”,do intelectual baiano Alberto Guerreiro Ramos. Escrito em 1958, a obra pretendia, segundo o autor, integrar a sociologia brasileira nas “correntes mais representativas do pensamento universal contemporâneo”. Em segundo lugar, dispunha-se a emprestar à disciplina um valor pragmático, quanto ao papel que “pudesse exercer no processo de desenvolvimento nacional” (p.49). Se por vários motivos, aspectos da primeira pretensão da obra parecem estar datados, a segunda parece mais atual que nunca e parece também ter muito a dizer ao debate político contemporâneo. Dentre outras coisas, ela lhe empresta um léxico (quase) esquecido, que passa pela construção da ideia de um projeto nacional.
Já no prefácio à segunda edição do livro, o leitor depara-se com a afirmação do autor de que o físico seria “menos uma pessoa que tenha lido muitos livros de física do que alguém apto a reagir diante dos fatos segundo algumas regras e referências conceituais” (p.30). Se naquele contexto, o uso da imagem era mais localizado, para nós ele ressurge como um convite a redescobrir a “Redução”. Dessa vez, se não pela exegese dos seus termos, talvez por uma chave de leitura que valorize certos insights, sobretudo acerca de uma vontade de construção nacional, em um país que parece não ter concluído essa tarefa.
Essa pretensão de “construir”, hoje obliviada por outros esquemas de pensamento da “moda”, alguns julgando a si mesmos muito progressistas, decorreria para Guerreiro das próprias condições objetivas colocadas por sua época histórica, que, segundo o sociólogo, estariam impondo, no Brasil do final dos anos 50, transformações na infraestrutura econômica e social do país e suscitando, com isso, um esforço correlato de criação intelectual e consciência crítica de caráter nacional, ainda por ser feito (p.52-53).
Citando expressamente fatores como a industrialização, a urbanização e alterações no consumo popular como elementos ensejadores dessa capacidade crítica, o intelectual baiano passa a reclamar então a necessidade de repensar sua disciplina, deixando claro, no entanto, que toda a ciência deve ser repensada à luz dessa própria tomada de autoconsciência nacional.
Para além dos fatores autoevidentes, é interessante citar elementos que Guerreiro Ramos considera ensejadores do pensamento crítico no bojo desses processos, como a “capacidade de pensar em termos de projetos”, no caso da industrialização (p.62); a capacidade de iniciativa, ensejada pela urbanização (p.66) e o “aprofundamento da subjetividade” gerado por níveis superiores de consumo (p.69), o que, ainda hoje, causaria urticária na intelectualidade que, de modo obtuso, critica a “inclusão pelo consumo” e promove uma estetização da pobreza, agora renovada sob um pseudoambientalismo.
Hoje não se poderia deixar passar sem vênias, é claro, o que para Guerreiro parecia autoevidente: um entremeamento ou uma passagem da autoconsciência individual ou localizada para uma “nacional”. Um de seus pontos distintivos, no entanto, parece ser justamente esse: o convite à redescoberta de categorias que, se hodienarmente não podem nos passar sem mais reservas críticas, sobretudo devido à profusão de nacionalismos reacionários e derrocadas econômicas, também parecem fazer falta a desafios inegáveis envolvendo a “questão nacional”.
O ponto do autor é que, diante do “novo quadro” de sua época, a sociologia não poderia operar como reflexo do externo, devendo se portar como um instrumento autoconsciente do desenvolvimento de uma nação ela mesma consciente naquele momento histórico. Assim, a “redução” consistiria em uma espécie de procedimento metódico no campo sociológico, não para rechaçar, mas para assimilar a produção jurídica estrangeira em nova fase.
De maneira genérica, o autor passa então a definir a redução como a “eliminação de tudo aquilo que, pelo seu caráter acessório e secundário, perturba o esforço de compreensão e a obtenção do essencial de um dado” (p.74). De modo mais específico, no próprio âmbito sociológico, seria uma “atitude metódica que tem por fim descobrir os pressupostos referenciais, de natureza histórica, dos objetos e fatos da realidade social”.
Aqui ganha a maior importância a noção de “pressupostos referenciais”, que estariam, como emenda o autor, ligados à necessidade social de uma comunidade em seu projeto de existência histórica. Esse filtro deveria ser acionado, se é que pode ser desligado, toda a vez em que uma comunidade se serve da experiência de uma outra (p.74).
Essa ideia estaria relacionada, por sua vez, ao postulado de que a perspectiva em que os objetos se encontram em parte os constitui. Sendo assim, se estes mesmos objetos são, porventura, transferidos para outra perspectiva, deixam de ser, em decorrência, exatamente o que eram. Se o primeiro passo hoje parece uma banalidade, o segundo passa quase esquecido na “importação das teorias”, inclusive as consideradas “críticas”. E aí está um dado fundamental para lidar tanto com o “saber do outro” quanto com o próprio saber “nativo” e a busca da sua distinção em um país que não parece ter abandonado o que Guerreiro chamava, em seu tempo, de “efeito de prestígio” da citação de autores estrangeiros.
Por trás deste postulado, é claro, resta o diálogo de Guerreiro com a tradição filosófica e sociológica em sua época, em uma apropriação, para uns, criativa e, para outros, demasiado eclética de um corpo extenso de autores. Ideias como a de Razão Histórica, de Dilthey, e a de Mundo, de Heidegger, teriam ajudado o sociólogo brasileiro, segundo ele mesmo, a formar a ideia de que a realidade social é formada por conexões de sentido, por isso mesmo não admitindo a existência de objetos sem pressupostos.
Mas ao afirmar que cada objeto “implica a totalidade histórica em que se integra”, Guerreiro enxergou, ao mesmo tempo, a possibilidade de suspender as notas históricas adjetivas de um produto cultural e apreender seus determinantes. Isto é, aproveitar com a experiência do mundo, em nome de uma experiência própria, de uma nova elaboração (p.89).
Entre a fenomenologia e o pragmatismo, em uma espécie de vocação antropofágica, o sociólogo estabeleceu então um convite, ao mesmo tempo, ao estranhamento de categorias e à percepção crítica do momento e do contexto presente. Essas faces de Janus, no entanto, serviriam a um “saber operativo”, que deveria se ocupar de um “ponto de vista universal orientado para o futuro” (p.106-107), como versava uma das “leis” da Redução.
A ideia de “Leis sociológicas” desde a época do autor já era questionada por críticos de sua obra, como o marxista Jacob Gorender. Hoje, tanto mais, ela nos parece pouco crível se não for devidamente “reduzida”. Como na passagem acima, no entanto, nada nos impede, por exemplo, de tomar o que Guerreiro chamava de “lei do comprometimento” como uma “posição de engajamento ou de compromisso consciente do contexto” (p. 101)”.
Aliás, promover aqui a “redução” de “Redução” nos faz encontrar com um ponto central de interesse do livro: o engajamento com o contexto não seria um capricho político, uma vez que conformaria um instrumento de “lucidez ao cientista, pois o leva a colocar, sob a luz da consciência, as virtualidades que habitualmente estão obscurecidas na conduta ordinária”. As consequências dessa afirmação são tremendas, pois equivalem, tudo o mais considerado, à seguinte afirmação: se os problemas da ordem do dia do país e suas resoluções conscientes não forem projetados como horizontes do conjunto das ciências essas acabam também por perder, nas condições objetivas brasileiras, elementos heurísticos, dispositivos epistêmicos e mesmo pressupostos gnosiológicos fundamentais aos seus campos de atuação.
Além do próprio acesso ao conhecimento, estaria em jogo ainda uma necessidade, diante da passagem de uma situação colonial para uma situação nacional de uma “ordenação própria ou de articulação interna” das nossas categorias de pensamento, o que, tanto como saber operativo, mas também no próprio campo das formulações, abriria para os intelectuais, um horizonte de infinitas possibilidades” (p.106-107).
Esse chamado, como já dito, não seria possível se Guerreiro não trabalhasse com o pressuposto, hoje nem tão banal, de que existe uma “nação” e, do ponto de vista filosófico, uma categoria tão problemática quanto interessante de ser revisitada quanto a de “totalidade”. Aqui, mais próxima, é verdade, de uma deflação fenomenológica do que do uso corrente do termo feito por autores marxistas.
A este respeito, em sua “Lei das fases”, Guerreiro chama de “razão sociológica” o fato de que “cada problema ou cada aspecto de determinada sociedade é parte de uma totalidade, em função da qual é compreendido” (p.121). Se, em outros tempos, essa afirmação poderia soar como um truísmo, hoje ela é um passo atrás necessário em um momento em que a política parece, ao mesmo tempo, colonizada pelos afetos e fragmentada em “narrativas” de pletoras de grupos ensimesmados com as suas pautas. Trabalhar a pretensão de totalidade sem prescindir de uma antropologia rica ou prescindir da diversidade, parece ser um desafio dos nossos tempos. Esse desafio, Guerreiro parece ter ele mesmo enfrentado ao considerar, por exemplo, a questão racial como uma questão de construção nacional.
E o projeto nacional em si? Na verdade, ele nunca aparece bem definido enquanto conceito em “Redução”. Mas todos os elementos da obra parecem como que conformar um serviço à sua construção. Uma nova ciência, uma nova consciência, uma nova atitude, à serviço de uma nação. Ao final da obra, por exemplo, em uma vaga definição, Guerreiro chamará de desenvolvimento a “promoção mediante a qual regiões e nações passam de uma estrutura a outra superior” (p.130). Passa então a buscar elementos distintivos que possam ajudar a identificá-lo em seu tempo histórico, quiçá em nosso próprio. Pode-se dizer então, por esses elementos, como por outros, que o projeto nacional é como que o horizonte da Redução, ao qual, como procedimento metódico, esta não apenas serviria, mas teria se tornado possível pela postulação do próprio projeto enquanto horizonte.
Noções filosoficamente bombardeadas, como a de nação; usos ecléticos de autores para confirmação de teses; vagas definições; pressupostos notadamente datados. O leitor atento certamente encontrará muitos pontos a criticar em “Redução”. Mas talvez descubra também aquilo que um crítico contemporâneo ao sociólogo baiano, o paraense Benedito Nunes, tão bem identificou na obra aqui comentada: Guerreiro parece exigir de nós uma atitude receptiva e lúcida, para manejar categorias do pensamento onde elas se tornem, além de válidas, férteis e produtivas. Considerando tanta terra a cultivar, essa mesma semente parece reclamar contemporaneidade e urgência.
O fato é que, ao colocar no centro do debate a ideia de nação, de projeto, inclusive naquilo que essa ideia aporta à própria lucidez científica, e de totalidade, naquilo que essa ideia nos situa em nosso próprio momento e lugar histórico, Guerreiro clama por um tipo de formação e de ciência que ainda fazem falta em um país e um “progressismo” que parecem ter perdido o rumo.




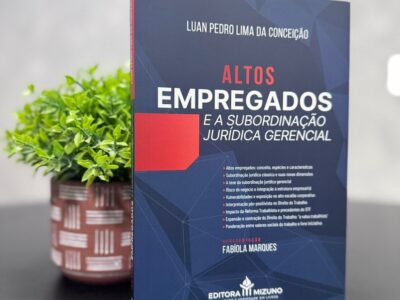




Comentários